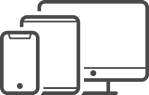Meta de inflação é como uma mãe brava do século passado. Ela gritava 1, 2… e no 3 os filhos já estavam a postos para obedecer à ordem do momento. No “1” já estava implícito que, em caso de descumprimento, o que viria depois era uma palmada. A ideia, claro, era não precisar do recurso extremo, mas conseguir a obediência sob coação. É a mesma coisa com os bancos centrais. Caso a inflação esteja se comportando mal, eles abrem a mão em forma de tapa e gritam. É um aviso de que a pancada dos juros virá se os preços não voltarem aos eixos.
Ao contrário do que ocorre com a educação de crianças, na economia a técnica funciona – e é uma das mais eficientes para manter a inflação baixa e estável. Desde os anos 1990, esse é o instrumento usado pelas economias sérias do mundo. E, desde que as metas foram criadas, consolidou-se no imaginário que a inflação ideal era coisa de 2% – esse era o alvo a ser perseguido por qualquer país que deseje alcançar o patamar de desenvolvimento econômico de Estados Unidos, Europa, Japão…
Só que o combo pandemia, guerra na Ucrânia e transição energética para aposentar combustíveis fósseis colocou os 2% mágicos em xeque. Ao mesmo tempo em que discutem como baixar a própria inflação, países ao redor do mundo se questionam se faz sentido voltar àquele patamar que vigorou com tanto sucesso durante tantas décadas. A resposta parece ser não.
A mudança de rumo pegou o Brasil no contrapé. Pela primeira vez o país tem uma meta de inflação de economias mais ou menos desenvolvidas: 3,25% em 2023, e 3% a partir de 2024, com tolerância para oscilar entre 1,5% e 4,5%. Os 3% são o mesmo patamar seguido por Chile, Colômbia e México, nossos colegas da América Latina que conseguiram uma cadeira na OCDE, o clube formado em sua maioria por países ricos do qual o Brasil deseja fazer parte.
Trata-se de um alvo ambicioso para alguns e inatingível para outros, isso mesmo antes de o mundo ter virado de cabeça para baixo. A mudança de conjuntura só acelerou a necessidade de o Brasil rediscutir se vale o esforço de baixar a inflação a qualquer preço.
Deveria ser uma análise técnica, mas não foi como ela começou. O início do governo Lula 3 foi marcado por uma briga pública entre Planalto, Banco Central, economistas de bancos, gestores de fundos, grandes empresas e acadêmicos.
Para tentar cumprir essa dura meta de inflação, você sabe, o Banco Central jogou a taxa de juros do país na lua, 13,75%, mesmo com o IPCA já tendo baixado de 12,13% (em abril de 2022) para 5,77% (em janeiro). Isso significa que o Brasil tem hoje o juro real mais alto do mundo, de 8% ao ano. A consequência é uma só: a economia está travando, o que é particularmente complicado para um governo que acabou de começar e quer manter seus níveis de aprovação elevados. Nessa pancadaria, sobrou até para a autonomia do Banco Central, uma mudança institucional importante, em linha com a realidade dos países desenvolvidos.

Lula tem dito que deseja ver a meta de inflação voltar a 4,5%, com um intervalo de 2 pontos percentuais. É o que vigorou no país de 2005 a 2018 e que virtualmente abriria espaço para baixar a Selic dos patamares estratosféricos. Voltar às metas anteriores, porém, é igualmente questionável.
Se tivesse sido conduzido de um jeito civilizado, o debate seria assim: vale a pena perseguir uma inflação tão baixa, raramente vista na história do país, justamente em um momento em que todos os bancos centrais do mundo estão com dificuldades de controlar a alta de preços e se repensa a meta de inflação ideal? Por outro lado, qual é o custo de ter uma inflação consistentemente acima da registrada pelos países desenvolvidos? É o que vamos discutir aqui.
A mudança da meta
A meta de inflação é uma decisão política tomada pelo governo eleito. Quem decide o alvo a ser perseguido é o Conselho Monetário Nacional (CMN), um órgão formado neste momento por três pessoas: os ministros da Fazenda (hoje Fernando Haddad) e do Planejamento (Simone Tebet), mais o presidente do Banco Central (Roberto Campos Neto). O CMN aprova a meta de inflação, o BC tem autonomia para decidir como vai cumpri-la. Em outras palavras: quando a inflação desvia da meta, a autarquia resolve o quão rápido mexerá na taxa de juros para conduzir os preços de volta ao alvo esperado.
A autonomia do Banco Central foi formalmente aprovada em 2021, mas, grosso modo, essa dinâmica de funcionamento do CMN e do BC existe desde a adoção das metas de inflação no país, em 1999. A ideia é que o alvo de cada ano seja decidido com antecedência – o horizonte hoje é de três anos. Em 2022, o CMN decidiu a meta de 2025 e os 3,25% de hoje foram fixados em 2020. O objetivo aí é reduzir o voluntarismo político e dar um horizonte de planejamento para o Banco Central cumprir a meta – e também para o mercado financeiro ajustar as suas próprias expectativas.
Quando o Brasil começou a baixar sua meta lá daqueles 4,5% o mundo era outro. Era 2017 e, passada uma década da crise financeira global, a inflação dos países ricos mal dava sinais de ressurreição: nos EUA ela passou quase todo aquele ano abaixo de 2%. Parecia a janela perfeita de mudança e a intenção era boa. O discutível foi o método.

O primeiro passo foi dado, durante a presidência de Michel Temer. O Congresso havia aprovado o Teto de Gastos em 2016, um instrumento que limitaria o crescimento das despesas públicas à inflação do ano anterior. O governo, quando gasta, é um dos consumidores dos bens e serviços produzidos. E se ele gasta demais, todo mundo paga mais caro, já que os preços entram em leilão – a mais pura definição de inflação.
Com o limite do aumento nos gastos e um possível controle da dívida pública, o governo da vez decidiu dar seus primeiros passos rumo a uma meta mais agressiva. Em 2017, o CMN decidiu reduzir a de 2019 para 4,25%. Dali em diante, aprovaram-se ano após ano cortes de 0,25 ponto percentual. O governo mudou e as reduções continuaram no mesmo ritmo até que a meta bateu nos 3% para 2024 em diante. A margem de tolerância também se estreitou: de 2 pontos percentuais para 1,5.
O problema foi o seguinte: a mudança na economia brasileira prometida pelo Teto de Gastos nunca ocorreu. Para que ele fosse cumprido à risca, o país precisaria aprovar mais reformas além da feita na Previdência – a própria concepção do Teto estava fincada na ideia de estimular tais reformas. E elas não aconteceram.
Os gastos do Orçamento de Guerra, para enfrentamento da pandemia, e a PEC Kamikaze, forjada para legalizar temporariamente o uso ilícito de recursos públicos para a tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro, foram só a confirmação de que o Teto já havia caído antes. Junto, a meta de inflação minúscula tornou-se insustentável. Por que, então, o CMN a manteve?

A grande redução
A decisão de baixar a meta de inflação brasileira para 3% ao ano foi tomada em um período em que o ministro Paulo Guedes tinha dois dos três votos do CMN. O ministério do Planejamento havia sido extinto, e a vaga no conselho foi para um subordinado de Guedes.
Uma reportagem do Valor Econômico, publicada em 2019, mostrou que as decisões de redução na meta não foram apoiadas em nenhum estudo técnico. A intenção de Guedes era aproximar o Brasil dos emergentes latino-americanos que integram a OCDE.
Bráulio Borges, pesquisador do IBRE/FGV, chama a atenção para algumas falhas nessa iniciativa de “imitar o irmão mais velho”. A primeira delas é que o México, apesar de anunciar uma meta de inflação de 3% há mais de 20 anos, só consegue entregar um resultado ao redor de 4%. A Colômbia adota o regime de 3% há uma década, e igualmente fica em 4%. Só o Chile tem conseguido cumprir o centro de sua meta.
Existem algumas explicações econômicas para isso. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil e os colegas latinos, a população gasta uma parte maior da renda com comida – e alimentos sofrem mais oscilações de preços, um reflexo de quebras de safras causadas por secas e enchentes. Isso, por si só, já faz com que a inflação seja mais alta do que em países ricos. Eles também sofrem mais com as oscilações do câmbio – um problema que virtualmente não existe para os Estados Unidos, e que conta pouco nos países com moeda forte.
Justamente por causa da volatilidade maior é que o Brasil deveria ter não só uma meta de inflação mais alta, como também uma faixa de oscilação maior, na avaliação do economista André Roncaglia. Uma tolerância a oscilações maiores daria mais flexibilidade ao Banco Central para esperar antes de subir juros de maneira agressiva, como ocorreu no ano passado.
“Eu gosto de comparar a meta de inflação com uma maratona. Os corredores têm um limite máximo de frequência cardíaca, e eles precisam parar quando superam os batimentos. Uma meta de inflação muito baixa significa que estamos colocando uma frequência muito baixa de batimentos para a economia. E isso impõe a necessidade de freá-la de maneira recorrente”, compara Roncaglia.
O Brasil tem uma dívida pública elevada, de 73% do PIB, enquanto economistas consideram que o ideal para países em desenvolvimento é algo em torno de 60%. E, no Brasil, reduzir a dívida é uma tarefa complexa: boa parte do Orçamento é de despesas obrigatórias, como o pagamento de salários de servidores e aposentadorias. Não dá para simplesmente deixar de pagar. Ou seja, não há espaço para economizar em despesas para reduzir a dívida de maneira rápida. O patamar de dívida atual do governo, segundo Bráulio, é compatível com uma inflação de 4%, não de 3%.

Ele foi uma das vozes alertando que a redução da meta de inflação na marra teria como consequência um aumento dos juros reais no país – o que piora a atividade como um todo e tem o efeito de frear a economia durante a “maratona”. “O tema é um tabu. É uma visão muito bem estabelecida de quanto menor a meta, melhor. Mas não é isso que a teoria econômica mostra”, afirma Bráulio.
A redução forçada da meta de inflação trouxe efeitos deletérios para a economia. Um estudo do próprio Banco Central, realizado em 2019, mostrou que o alvo mais baixo de inflação levou a um aumento do juro real de longo prazo do país, tornando mais difícil fazer investimentos na economia real – ou seja, em coisas produtivas, em vez de títulos da dívida do governo. Naquele ano, a meta de inflação sofreu sua primeira baixa, e já tinha novas quedas programadas até 2021.
Ou seja, a economia já estava dando sinais de que não comportaria uma meta de inflação mais baixa, e mesmo assim continuou-se forçando a queda. A Você S/A procurou o ex-ministro Paulo Guedes, que controlava o CMN quando o órgão votou pela meta de 3%, para saber quais estudos basearam a decisão. O ministro não quis responder.
É preciso dizer, no entanto, que sempre existe alguma arbitrariedade na decisão de qual é a meta de inflação. Economia, afinal, não é uma ciência exata – e tampouco existe fora da política. A história do surgimento do sistema ilustra isso bem.
A origem
Estamos nos anos 1980. O mundo ainda vivia sob a ressaca dos choques no preço do petróleo, que tinham marcado a década anterior. A alta dos combustíveis afetou a economia global por uma série de canais. Um deles era que o petróleo estava realmente mais caro. E com o barril mais caro todos os preços aumentam, já que tudo o que se produz em bens e serviços depende de transporte para existir. Segundo motivo: os países que importavam petróleo (basicamente todos) precisavam de dólares para pagar. Mas a única nação com uma impressora de dólares para chamar de sua são os EUA.
Aí podem acontecer duas coisas. Se o país tivesse câmbio fixo, o que era bem comum na época, ele ficava sem dólares para garantir a estabilidade da própria moeda e quebrava. Se ele permitisse a desvalorização do câmbio, gerava uma segunda onda de inflação, porque todos os importados ficavam ainda mais caros.
Todo o mundo estava enfrentando inflação alta nesse período, não é à toa que o noticiário econômico hoje enfatiza que os Estados Unidos registraram, em 2022, a maior alta de preços desde o início dos anos 1980. No Brasil dessa época, seguimos o caminho das “maxidesvalorizações” – e elas deram início a uma hiperinflação.
Para conter a inflação, bancos centrais buscam drenar dinheiro da economia. E eles fazem isso subindo juros. BCs são, em parte, a fonte do dinheiro que os bancos emprestam. Ao tomar dinheiro a juros altos, os bancos tendem a pegar menos, e a conceder menos crédito. Com uma quantidade menor de grana circulando, o ritmo de alta nos preços diminui. O contrário também funciona: se a economia está esfriando, BCs baixam os juros – como fizeram no mundo todo durante a pandemia.
Mas não são só os BCs que colocam dinheiro em circulação. Os governos também fazem isso quando emitem dívida nova para cobrir os seus gastos. Os BCs não conseguem interferir ali. Isso é importante porque de nada adianta os BCs subirem os juros para segurar a inflação se o governo continua gastando. Os preços seguem avançando mesmo com os juros na lua.
Este não é um problema que começou agora. Sempre foi, em todo o planeta. Por isso mesmo surgiu a seguinte ideia: se os governos fixassem compromissos públicos de quanto gastariam, por exemplo, e elas fossem críveis, ficaria mais fácil conter a inflação. Foi assim que surgiu a ideia da âncora fiscal. É preciso dar previsibilidade. E também a âncora monetária – de onde vem a meta de inflação.
Começou na Nova Zelândia. O BC neozelandês brincava de equilibrista. Suas tarefas eram 1) crescimento, 2) pleno emprego, 3) equilíbrio no balanço de pagamentos e, só então, 4) estabilidade de preços. Se é difícil servir a dois senhores, que dirá a quatro.

O país falhava em tudo – vivia aos solavancos. Ao mesmo tempo em que tentava colocar ordem no Banco Central, a Nova Zelândia estava em um processo de reforma do Estado, um esforço de criar a sua (boa) burocracia estatal, aquela estrutura básica que tem a função de blindar a máquina pública do uso político.
Desse caldeirão surgiu o conceito de meta de inflação. O governo eleito daria ao BC uma única tarefa, cujo cumprimento fosse fácil de monitorar e cobrar. E que o banco central tivesse autonomia para seguir. A inflação foi escolhida porque era mais simples de medir. Trata-se de um indicador divulgado mensalmente, tranquilo de acompanhar até para leigos. Todo mundo sabia o que o Banco Central faria.
Isso aconteceu mais por intuição do que por qualquer pesquisa acadêmica, como reconheceram os dirigentes do BC uma década depois. Só a partir daí que os economistas foram entender por que o sistema funcionava.
E foi parecido com a meta de 2%. Depois que o BC de lá ganhou a tarefa, os integrantes do banco saíram viajando pelo país para conversar com a população e afirmar categoricamente que eles não permitiriam que a inflação do país superasse os 2%. Não era bem uma meta, era uma banda entre zero e 2%.
Eles fariam tudo que fosse necessário para entregar a meta prometida. Leia-se: subir juros para tornar o crédito caro e esfriar a economia. Aí a alta na taxa pode ser menor, porque fica todo mundo com medo do aumento e já começa a consumir e investir mesmo. É a ameaça da mãe brava lá do começo do texto posta em prática. O nome técnico que os economistas dão para isso é ajuste de expectativas.
E deu certo. O BC manteve taxas de juros de quase 20% no começo do sistema, enquanto comunicava que elas não baixariam até que a inflação cedesse. Ela cedeu. O país saiu de uma inflação que oscilava entre 10% e 20% ao ano, entre as décadas de 1970 e 1980, para abaixo de 2% nos anos 1990. A técnica começou a ser replicada por outros bancos centrais ao redor do mundo. Mas ainda não havia uma resposta de por que a meta universal virou 2%.
Qual meta?
Os dirigentes do BC neozelandês reconheceram à época que a meta de inflação de “até 2%” veio na base do chutômetro. Tratava-se, de qualquer maneira, de um chute bem informado.
Perseguir inflação positiva – e não zero – funciona como uma espécie de incentivo para a economia. Uma inflação zero parece a ideal. Mas não é.
Quando nenhum preço sobe, significa que não há novas oportunidades para empreender. O pão na padaria do seu bairro pode ficar mais caro por conta de um aumento na demanda. O padeiro lucra mais. Aí, no cenário ideal, alguém monta uma segunda padaria ali perto para suprir essa demanda. Criam-se empregos. Sem alguma alta no pão, não surgiriam novas padarias. E se o preço do pão passasse a cair sem parar, pior. As duas padarias fechariam. Matariam-se empregos. É o inferno da deflação – que foi a causa da Grande Depressão nos EUA, por exemplo.
E há um problema adicional: as medidas de inflação, por mais aprimoradas que sejam, não são 100% precisas. Elas tendem a superestimar as altas de preços.
Um dos motivos é a sazonalidade. A época em que você encontra mexericas no supermercado é durante o outono, o período em que os preços estarão mais baixos. No verão, as poucas frutas que forem colocadas à venda tendem a custar muito mais, e vão pesar na inflação. O que acontece é que, na hora de calcular o IPCA, não se leva em conta que o consumo dessa fruta cai, e aquela alta não tem efeito real no orçamento das famílias.
A mesma coisa acontece quando algum produto sofre quebra de safra. O mais provável é que, com o aumento de preços, os consumidores mudem temporariamente os hábitos. Se o custo do leite dispara, talvez por um tempo o café seja consumido puro.
Há ainda mudanças mais profundas de comportamento, como a troca da locadora de DVD pela Netflix, ou do táxi pelo Uber. Essas mudanças demoram a ser captadas pelos órgãos que medem a inflação, caso do IBGE no Brasil. A pesquisa de orçamento familiar por aqui é feita em intervalos de seis a sete anos.

Acontece que novos produtos e serviços tendem a ser lançados a valores mais altos, vão se massificando e caem de preço (como aconteceu com as TVs de tela plana). Esses ítens acabam entrando na cesta da inflação só depois que o valor já baixou – o que mascara o efeito deflacionário da inovação.
Para completar, existem as transformações tecnológicas que elevam a produtividade. Um iPhone de 2023 é um aparelho com muito mais recursos em comparação ao de 2008, mas esse ganho de produtividade em relação ao preço não é “compensado” nos índices de inflação. Lá, só aparece que o aparelho ficou mais caro.
De qualquer forma, consolidou-se a ideia de que a inflação “zero” é de 2%. E aquilo que começou como uma decisão arbitrária ganhou respaldo científico. Só tem um problema: talvez esse não seja mais o número mágico perfeito.
Desde 2010, Olivier Blanchard, um dos economistas mais respeitados dos EUA, argumentava que talvez a inflação “ótima” do país seria de 4%. Naquela época, os americanos tentavam sair da crise econômica e a inflação estava abaixo de 2%. Falar em 4% não comovia ninguém.
No ano passado, Blanchard voltou a defender sua posição, mas também cedeu um pouco. Ele repetiu que manter a inflação em 2% poderia significar um sacrifício social injustificável, já que seria preciso manter juros altos e isso elevaria o desemprego.
Mas ele recuou no alvo de 4% e agora avalia que uma meta de 3% poderia ser um ajuste adequado. Para isso, ele usou um argumento que os economistas chamam de saliência. Existe uma certa taxa de inflação que, na percepção das pessoas, é equivalente a zero. Na prática, os indivíduos não sentem que estão empobrecendo, os preços no mercado sofrem relativamente poucas remarcações e trabalhadores não se preocupam tanto em barganhar reajustes salariais – o mais forte dos mecanismos de retroalimentação da inflação.
Um estudo chamado Inflation and Attention Thresholds (Inflação e Limites de Atenção, em tradução livre), publicado no ano passado, mostrou que hoje a inflação “zero” na percepção dos americanos é de 3%. Ou seja, subir a meta de inflação até esse patamar não teria o efeito de gerar uma quebra de confiança no sistema.
Blanchard ganhou a companhia de outros economistas de peso, como Mohamed El-Erian, chairman da gestora de fundos Gramercy, e Kenneth Rogoff, professor em Harvard University e ex-economista do Fed em sua defesa de uma meta de inflação mais alta para o seu país.
As explicações passam justamente pela transição energética e pelas mudanças estruturais na economia global, que mencionamos no início deste texto. O fenômeno é semelhante do outro lado do Atlântico, agora que a Europa precisa se livrar da dependência do gás barato que vinha da Rússia. O fato é que taxar emissões de carbono enquanto se financiam fontes de energia limpa, mas inicialmente mais cara, aumenta toda a estrutura de custos da economia. É uma medida irremediavelmente inflacionária, porém necessária.
O Federal Reserve revisa sua meta a cada quatro ou cinco anos – ela pode ocorrer ainda em 2023 ou em 2024, apesar de o tema não ter sido anunciado até o momento e do fato de que o Fed reitere em todos os seus comunicados que a prioridade zero é colocar a inflação americana, hoje em 6,4%, dentro da meta de 2%.
Como vimos mais cedo, economias em desenvolvimento precisam de inflações ligeiramente mais altas que os países ricos. E se a meta americana tem tudo para subir para a faixa de 3%, manter o alvo brasileiro no mesmo patamar pode ter consequências ainda mais graves para a nossa economia. A pergunta passa a ser como reajustar a meta de maneira racional.

A nova meta
Bráulio Borges, do IBRE, reforça algo importante sobre a decisão de meta de inflação: ela não pode ser fácil demais, mas também precisa ser viável. Voltar de sopetão a um alvo de 4,5%, com banda de 2 pontos, como quer o presidente Lula, automaticamente colocaria a atual inflação atual (de 5,77% ao ano) dentro da meta. Fácil demais.
Também é ilusão achar que isso automaticamente abriria espaço para a queda de juros e destravaria a economia. O mais provável é que o tiro saia pela culatra, como alertam os economistas. A guinada representaria uma quebra de confiança. O uso da meta como uma âncora deixa de funcionar e a inflação sobe.
É um problema. Inflação é uma espécie de imposto. A alta de preços eleva a base de arrecadação do governo, e acaba ajudando na redução da dívida pública, ainda que pelas vias erradas. Com um problema adicional: quem paga a conta são os mais pobres, que não têm como investir em aplicações financeiras que protegem da alta de preços. Para dar uma ideia mais clara do imposto inflacionário: com o IPCA a 5,77%, em quatro anos cada nota de R$ 100 tem seu poder de compra reduzido para o equivalente a R$ 80 de hoje. Dá para sentir a perda na pele, e rápido.
O mercado financeiro, por sua vez, passa a cobrar juros mais altos para financiar a dívida pública, de modo a cobrir a expectativa de preços mais altos. Ou seja: inflação alta funciona como transferência de juros de pobres para ricos. Só que as taxas de juros maiores para manter uma inflação artificialmente baixa também, já que o dinheiro para pagamento de juros sai do caixa do governo, que fica com menos recursos para investir em áreas cruciais, como educação e saúde, essenciais para a redução das desigualdades.
Entre ter uma meta que envolva algum desafio e uma que não estrangule a economia, pesquisadores e gestores de fundos têm defendido uma meta maior que a atual, mas menor que a desejada por Lula.
Consideradas as condições da economia brasileira, algo um pouco abaixo de 4% seria mais factível – essa é a taxa perseguida por países como Índia e Rússia. Noves fora a guerra de Putin, são economias com dimensões e problemas comparáveis aos do Brasil.
Um estudo da MCM Consultores tentou replicar no Brasil a pesquisa sobre a percepção de inflação e descobriu que, por aqui, ela começa a incomodar e gera remarcação de preços e pedidos de aumentos salariais quando ela supera os 3,7%. Esse é mais um indício de que a inflação do país poderia ser um pouco mais alta, sem causar efeitos deletérios sobre a economia.
A taxa média de inflação global ao longo de mais de seis décadas foi de 3,8%. Os Estados Unidos mantiveram uma média de 2,4% nos últimos 30 anos. Mas num panorama mais amplo, de 1948 a 2023, foram 3,42%. Ou seja, a história demonstra que esse patamar faz sentido.
E não se engane: baixar a inflação brasileira para 3,75% ou 4% é desafio o bastante. Desde a implantação do plano Real, o IPCA médio do país é de 7,1%. Entregar um índice mais moderado demandará bastante trabalho do governo e do Congresso para equilibrar as contas públicas e promover o crescimento econômico. Algo que exige decisões baseadas no uso intensivo do cérebro, não do fígado.